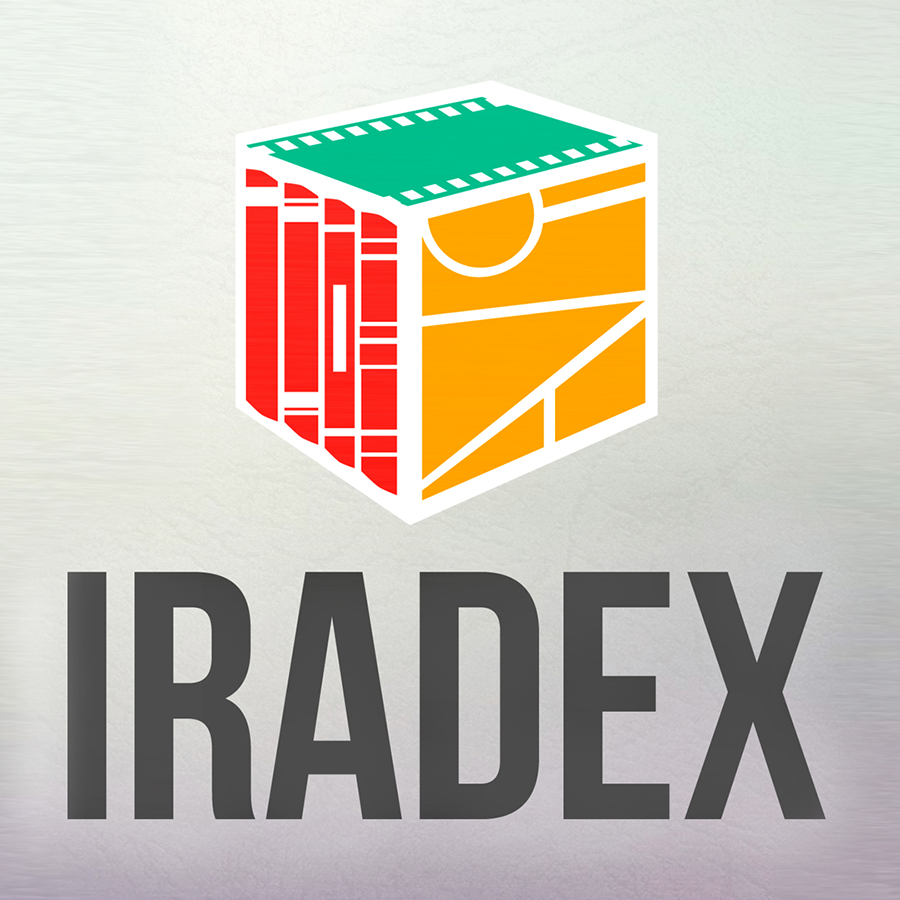Foto: Manuela Scarpa e Rafael Cusato / Brazil News
Existem artistas que cumprem o papel de artistas enquanto mantêm distância segura para o público, que só cumpre o papel de público. E, assim, como se houvesse um pequeno muro entre os dois, a vida continua. Esse foi o completo contrário da noite de segunda-feira (14), quando Mumford and Sons e Florence + The Machine subiram ao palco do Metropolitan, no Rio de Janeiro, como parte das Lolla Parties, para fechar a ponte aérea iniciada no Lollapalooza, no último fim de semana, em São Paulo. Em meio a um frenesi generalizado, as duas bandas britânicas se alternaram com o público no papel de cantor e fã. A atmosfera de troca foi tão grande que, em certo momento, Florence virou espectadora do próprio show e disparou elogios à plateia: “vocês são o melhor coro que eu já vi na minha vida”.
A interação entre o palco e o resto da casa, que estava praticamente lotada, foi a tônica da noite. Simpáticos, mas de curtos discursos, os rapazes do Mumford and Sons fizeram dos refrões de suas músicas a melhor forma de interagir: sucessos como “Little Lion Man” e “I Will Wait” tiveram partes inteiras embaladas na voz dos fãs. Já Florence lançou mão de seu repertório mais conhecido, mas cedeu às súplicas do público e cantou “Which Witch”, faixa-bônus de seu último trabalho, How Big, How Blue, How Beautiful (2015).
Mumford and Sons
A expectativa dos fãs para a primeira vez do Mumford no Brasil era do tamanho do sucesso meteórico que a banda alcançou desde o lançamento de seu primeiro disco, Sigh No More (2009). Catapultados pelo impacto de “Little Lion Man” – nomeada na categoria Melhor Música de Rock no Grammy 2011 -, os quatro britânicos misturaram o álbum de estreia com o consolidado Babel (2012) e o ainda recente Wilder Mind (2015) e entregaram ao público um repertório que, se não causou epidemia de choro como no Lolla, arrancou sorrisos e uma chuva de aplausos da plateia, que era mais da outra atração da noite do que sua.
“Snake Eyes” foi a escolhida para abrir e cumpriu bem seu papel de esquentar o público. Então, sem pestanejar, o vocalista Marcus Mumford sacou o violão e, com batidas rápidas e levada folk, tocou a introdução que anunciava “Little Lion Man”. O público congelou. Na pista premium, bem no gargarejo, um casal se entreolhou boquiaberto, se abraçou e começou a pular ao som da música, que agora já caminhava para os primeiros versos. Uma reação comum, àquela hora. Marcus aproveitou a empolgação da plateia, deixou os dedos correrem lentamente pelas cordas do violão e o quase silêncio produzido pela banda foi preenchido pelo coro apaixonado que cantou o refrão. O vocalista sorriu, continuou a música e repetiu o gesto, abrindo alas para o público novamente cantar. No fim, agradeceu duas vezes, recebendo como resposta gritos de “Mumford! Mumford!” e “We love you!” (nós amamos vocês).
O setlist continuou caminhando pelos três álbuns e a diferença entre os trabalhos se fez notar melhor. Já senhora do palco do Metropolitan, a banda entregou duas versões de si mesma. Em uma, rock convencional, como em “Wilder Mind” e “Tompkins Square Park”. Mas, quando as guitarras eram aposentadas e entravam em cena o violão de batidas rápidas de Marcus Mumford, o banjo estridente de Winston Marshall e o pesado som do baixo clássico de Ted Dwane, aparecia a primeira versão do Mumford. Os instrumentos eram uma volta às raízes folk, que fazia os rapazes da cosmopolita Londres parecerem uma trupe do meio-oeste dos Estados Unidos no século passado. E era essa a versão que mais empolgava o público.
Versátil, Marcus Mumford assumiu a bateria em duas canções: a primeira foi “Lover of the Light”, que incendiou principalmente os casais da plateia e abriu espaço para, pouco depois, a banda apresentar “Believe”, um dos singles do último álbum. “Believe” é, de longe, um dos pontos altos da apresentação. Com começo estilo balada e ritmo lento, a música ganha força no refrão, também entoado em coro. Na parte final, com o peso das guitarras por trás, a canção toma conta de todo o espaço com os versos fortes: “Say something, say something, something like you love me…”, gritava o público. Depois, tocaram “Monster”, a celebrada “The Cave”, “Ditmas” e fecharam a primeira parte do show com Marcus novamente de baquetas à mão em “Dust Bowl Dance”.
Os rapazes despediram-se brevemente e, depois de cinco minutos, voltaram ao palco escuro. “Boa noite, nós somos Florence + the Machine”, brincou Marcus, ensaiando uma pose de diva e arrancando risadas do público. Então, uma luz azul engoliu a banda e, da plateia, cintilavam as lanternas dos celulares. Cenário perfeito para a balada “Hot Gates”, que conseguiu tirar algumas lágrimas dos fãs mais acalorados. As duas últimas do setlist foram grandes conhecidas do público. Primeiro, “I Will Wait”, do segundo disco, berrada a plenos pulmões – a música havia sido pedida insistentemente pela plateia durante todo o show. Por último, a agitada “The Wolf”, que fechou a apresentação e deixou o público com gosto de quem quer (muito) mais. E deixou, também, a energia lá em cima para Florence.
Florence + The Machine
Mal o Mumford saiu do palco e muita gente lançou-se ao chão. Descansavam para incorporar a intensidade que já havia se anunciado no Lolla, quando Florence levou o público a um estado de catarse. E, se os rapazes demoraram mais de uma hora para fazer alguém chorar, bastou a cantora entrar para as lágrimas rolarem. Florence surgiu no palco como uma aparição. Vestido azul-claro que dançava ao sabor do vento, cabelo vermelho-fogo e o jeito de andar que confere à cantora o aspecto de fada. Os fãs, também paramentados com coroas de flores e linhas de purpurina embaixo dos olhos, faziam reverências e a primeira música, “What the Water Gave Me”, ganhou ares de ritual sagrado. No refrão, Florence estendeu os braços em direção à plateia, como se lançasse um feitiço, e esta respondia a plenos pulmões, como se estivesse mesmo enfeitiçada.
O palco era ornado por um enorme painel de pequenos quadrados prateados e quase quarenta holofotes de um amarelo tão forte que conseguia banhar o Metropolitan até sua última parede. A banda, com harpa, violinos e trompetes, complementava o cenário celestial montado para Florence, em seu pedestal, desfilar uma ópera de quedas e recomeços. Primeiro, tocou “Ship to Wreck”, um flerte com o fundo do poço. Em seguida, com órgão solene e letra mais declamada que cantada, a cantora arrebatou o público com “Shake it Out”, um hino sobre desapego e renascimento. Mais lágrimas.
A cantora, então, dirigiu-se ao público pela primeira vez. A voz potente se transformava quase em sussurro. “Olá, Rio! É ótimo estar de volta ao Brasil!”, suspirou. Então, Florence pediu que as meninas fossem levantadas nos ombros dos rapazes e, enquanto as pequenas torres humanas se multiplicavam, deu ao público “Rabbit Heart”, do primeiro disco, Lungs (2009).
O público reagia apaixonadamente a cada movimento de Florence, fosse às piruetas que faziam o cabelo voar em “Delilah”, fosse aos passos de dança contemporânea ensaiados por ela em “How Big, How Blue, How Beautiful”, faixa que dá nome ao último álbum, lançado no ano passado. Antes desta, aliás, Florence fez discurso emocionado.
“Eu acho que da última vez que estive aqui eu ainda não tinha essa próxima música, mas ela estava vindo. Quando eu escrevi este último disco, alguns dos sentimentos eram grandes, outros eram bem azuis. Mas no fim, todos tornaram-se bonitos. E eu carrego esta música comigo como um grande céu azul que brilha sobre tudo. Foi de grande esperança para mim. E eu quero dar esse céu azul a vocês, agora”, confessou.
A música, que fala diretamente sobre a dor de perder alguém, atingiu frontalmente a plateia. “Talvez eu te encontre em uma outra vida / porque essa não foi suficiente”, cantou, ao fim, arrancando gritos emocionados e abrindo caminho para uma novidade. Ausente no Lolla, “Third Eye” marcou presença no setlist do Rio de Janeiro.
Na sequência, o show caiu em ritmo mais lento. Primeiro, “Heartlines”, ressuscitada do segundo álbum, Cerimonials (2011). Depois, versão acústica de “Sweet Nothing”, parceria da cantora com o DJ escocês Calvin Harris. Mas logo o trem voltou aos trilhos com “Queen of Peace”, levada pelo conjunto de metais da The Machine, e “Spectrum”, uma das músicas que mais funciona ao vivo no setlist da cantora. Era difícil ver alguém parado.
O fim da primeira parte foi reservado para duas das favoritas do público. “You’ve Got the Love”, versão do single de 1986 de Candi Staton e regravada por Florence em Lungs, foi apresentada em forma acústica, com harpa de fundo. E, por fim, o primeiro grande sucesso da carreira da cantora deu ao show tons de despedida: assim que começou, “Dog Days Are Over” fez o público lançar as mãos em direção ao céu e bater palmas junto com a bateria. Perto do fim, Florence pediu que o público “pulasse o mais alto que pudesse, por quanto tempo aguentasse”. Os fãs, é claro, atenderam, e já estavam exauridos quando a cantora despediu-se brevemente para, assim como o Mumford, também retornar.
Em sua volta, a britânica entregou ao público o que ele vinha pedindo em cada intervalo silencioso entre uma música e outra. “Paciência, nós vamos chegar lá”, havia brincado, no começo do show, quando os pedidos aumentaram. “Which Witch” foi surpresa no repertório, mas justificada pela cantora como “um pedido dos fãs”. O mesmo havia sido feito no Lollapalooza, mas a escolhida foi “No Light, No Light”. A plateia agradeceu e Florence partiu para a próxima, o primeiro single do último disco, “What Kind of Man”.
Com começo sombrio, a faixa ganha força enorme com o constante riff de guitarra e os backing vocals, que participam mais desta música que em qualquer outra. A temática é a tônica do último álbum, que fala sobre separação, libertação e, por vezes, flerta com a autodestruição. Forte como poucas, “What Kind of Man” poderia muito bem ter encerrado a apresentação, mas Florence preferiu “Drumming Song”, resgatada do primeiro disco, para isso. Ao som de tambores tão graves que ribombavam no peito dos fãs, a ruiva cantava a história de um amor claustrofóbico e ao mesmo tempo resumia tudo o que desfilou no palco do Metropolitan: os ares de ritual, as letras que fogem do clichê e transbordam honestidade, e a intensidade que transmite ora com doçura, ora com um quase desespero. “Mais alto que sirenes, mais alto que sinos, mais doce que o paraíso e mais quente que o inferno”, resumia a cantora, com um público no último estágio do êxtase, nos versos finais de “Drumming”. O público aplaudiu, chorou e gritou. E, no fim, entendeu a mensagem repleta de estética que a cantora levou uma hora e meia para passar. Mas passou. E como passou.
Por Filipe Rangel