(Foto: Manuela Scarpa – Brazil News)
Nenhuma banda atinge o status de “maior do mundo” sem oferecer algo realmente especial ao seu público. No caso do U2, o que é oferecido é um momento. Um instante em que toda a complexidade da vida é desfeita em compreensão. Um instante que, tão rápido quanto vem, vai. No domingo, terceira noite de shows da The Joshua Tree Tour em São Paulo, o U2 mostrou que sua grandeza consiste justamente em alongar esse instante como quem puxa uma corda, fazendo com que os milhares de fãs consigam se conectar tanto às pequenas questões de foro íntimo quanto aos grandes problemas geopolíticos que assolam o planeta. A voz de Bono se comunica diretamente com o interior, sacode alguma coisa lá dentro e pronto: um mar de gente levado pela comoção cria a atmosfera de seita que envolve um show do U2.
Parte das críticas que açoitam a banda tem a ver com esse seu caráter messiânico. Noel Gallagher, ex-guitarrista do Oasis, disse que desistiu de defender os irlandeses: “Ou você entende o U2 ou não entende. Se você não entende, é uma pena!”. Foi justamente Noel, que acompanhado de seus High Flying Birds, abriu a inesquecível noite sob a garoa paulista. Apesar de ter tocado clássicos do Oasis como “Wonderwall” e “Don’t Look Back in Anger”, ele foi majoritariamente ignorado por um público que estava sedento pelo carisma de Bono e pelos riffs poderosos de The Edge. Onze músicas depois, ele deixou o palco livre para que a multidão tivesse o que queria.
Finalmente, os baixinhos integrantes do U2 entram um a um no palco. O primeiro é Larry Mullen Jr., com seu ar tímido e vago. Fazendo a bateria rufar bem perto da plateia, ele abre caminho para os outros. Edge entra com o riff decidido de “Sunday Bloody Sunday”, Bono diz que não pode acreditar nas notícias que leu e tudo começa. O público vai ao êxtase, que se mantém durante todo o primeiro bloco do show, que tem ainda “Bad”, “Pride (In the Name of Love)” e “New Year’s Day”, músicas que remetem ao começo dos anos 80 e aos primeiros álbuns da banda.
A sessão nostalgia dá lugar ao Joshua Tree, disco de 1987 que é tocado, em ordem, do começo ao fim, já que a turnê comemora seus 30 anos. O Joshua define mais o conjunto da obra do U2 do que sua era oitentista de pós-punk. As músicas são feitas para criar ambiente. Para soarem como hinos. Os temas variam desde a busca religiosa por um sentido até a intervenção americana em países mais pobres, mas a atmosfera é sempre a mesma: o deserto. O deserto que se impõe como um gigante entre o homem e o que ele busca. O disco também reflete a fascinação da banda com os Estados Unidos e seus espaços amplos, quase infinitos. Palavras como céu, tempestade, ferrugem, montanha e poeira são recorrentes, assim como personagens bíblicos como Caim e Jacó. É o disco mais espiritual do grupo. Bebendo na fonte da literatura americana — principalmente em nomes como Patti Smith, Raymond Carver e Flannery O’Connor –, o U2 conjura imagens que evocam uma força maior, tanto terrena quanto sobrenatural.

O jeito de levar isso para a noite paulista foi o monstruoso telão que, curvando-se levemente sobre o palco como uma delicada cadeia de montanhas, parecia abraçar a banda. Assim que “Where the Streets Have No Name”, a primeira faixa do álbum, começou, fotografias de paisagens bucólicas dos Estados Unidos serviram como pano de fundo para Bono e companhia. Nada das luzes de Nova Iorque ou o glamour de Los Angeles. O interesse do U2 recai sobre o interior, sobre o meio-oeste, sobre trabalhadores braçais que lutam por prosperidade enquanto tentam conciliar seus amores e suas angústias. A gaita de Bono e a pegada de música folclórica que The Edge imprime em algumas músicas dão o tom do que a banda quis dizer com o Joshua.
As músicas seguintes têm alto poder de comoção. São grandiosas. “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”, que Bono define como uma música religiosa antes de cantá-la, e “With or Without” arrancam lágrimas dos olhos. Chora-se sem saber exatamente o porquê, mas há algo de perda, algo de busca, que toca profundamente. Outras canções bem menos conhecidas têm o mesmo poder, se você prestar atenção. “Running to Stand Still” é um grito na fronteira entre o desespero e a resiliência. Já “Red Hill Mining Town”, a menos frequente no repertório da banda, é de uma delicadeza que a torna uma das mais belas do show. A música narra a agonia de um trabalhador braçal, exaurido pela vida, esgotado emocionalmente, que vê no amor paciente a única fuga da aniquilação. O arranjo com coro de metais — interpretado no telão por pessoas vestidas com o uniforme do Exército da Salvação americano — deixa tudo ainda mais tocante.
“In God’s Country”, “Trip Through your Wires” — de pegada mais country –, “One Tree Hill” e “Exit” seguem o álbum em compasso mais rápido e também menos relevante. O ciclo fecha com “Mothers of Disappeared”, que fala sobre a tristeza das mães de filhos desaparecidos. No telão, algumas mulheres idosas e de semblantes duros, mas ternos, seguram velas na escuridão. Velas que uma a uma são sopradas e apagadas, até que a escuridão tome completamente o lugar daquela pequena luz de esperança. Uma imagem forte para terminar um disco que te transporta exatamente para onde o U2 quer que você esteja: um lugar tão árido quanto vasto, onde a beleza mora no detalhe que precisa ser buscado para ser visto.
Como de praxe nos grandes shows, há o tradicional falso adeus e uma retirada temporária do palco. A banda volta com as cores e a alegria de “Beautiful Day”, uma das unanimidades entre o público. O arranjo modificado tira um pouco da beleza que existe na gravação, mas não o suficiente para baixar a temperatura de uma canção que fala sobre se agarrar ao que há de belo em meio ao caos. Aos poucos o Joshua Tree e sua força arrebatadora vão ficando para trás. O deserto dá lugar à vertigem e à leveza que vêm quando se perde o atrito com o chão. “Elevation” e “Vertigo”, ambas extraídas de álbuns da era moderna da banda, já nos anos 2000, são rápidas, pesadas e eletrificadas, colocando de vez o público de volta no show.

Bono e sua turma param mais uma vez. Quando voltam, o palco ilumina-se sobre eles em cores quentes e fortes que alegram o céu negro e pesado que descansa depois de chover. A luz realça os detalhes, fazendo com que o público note cada um deles. Larry veste uma camisa onde se lê “censura nunca mais”. Adam Clayton enverga uma cabeleira mais comedida que no passado, mas ainda conserva o status de figura mais alegre da banda. The Edge ainda usa seus trajes de vagabundo de filme europeu, assim como Bono ainda enverga seus óculos escuros e sua jaqueta preta que transformam Paul Hewson, o cristão irlandês de meia-idade, na lenda do rock. O frontman gosta de manter essa pose. O status de sexy symbol catapultado quando a Rolling Stone estampou a capa “Everyone Wants a Piece of Bono” (“Todo mundo quer um pedaço do Bono”). Por isso, para saciar a insaciável sede por seduzir e ter atenção, Bono convida uma menina de curvas acentuadas, que toma o palco como um furacão, dançando bem pertinho do vocalista, que se contém sob o olhar atento da esposa. Ao fundo, soa “Mysterious Ways”, um rock suingado e sensual, que acentua o flerte da moça brasileira com o tentado irlandês.
Ao fim da música, Bono despede-se da menina e não demora a fazer uma média. Faz juras de amor à esposa e dedica a ela “You’re The Best Thing About Me”, lançada no mês passado. A música tem levada pop e uma textura doce na guitarra de Edge, que monta os trilhos para que a voz de Bono deslize. A performance convence, mesmo que pouca gente saiba cantar. O U2 vive de sensações e o novo hit espalha pelo enorme Morumbi uma onda de paixão juvenil. Uma tradicional canção pop de amor, que contrasta com a seguinte, também ela uma canção de amor, “Ultraviolet (Light My Way)”. Bono também dedica ela a Alison, assim como às esposas dos outros integrantes, às mulheres que trabalham com a banda e, em geral, a todas as mulheres que mudam o mundo e “iluminam o caminho” dos homens. No telão, mulheres famosas são homenageadas, entre elas as brasileiras Maria da Penha e Taís Araújo. “Ultraviolet” é uma canção mais profunda que a anterior, que exalta o poder de salvação do amor. Tem um refrão forte, uma súplica, e um final delicado.
“Quando eu estava uma bagunça e tinha a ópera em minha cabeça, seu amor foi como uma lâmpada pendurada sobre a minha cama” – canta Bono, evocando uma das maiores qualidades da banda: a consciência da própria fragilidade.
O show termina com “One”. É um dos instantes, um dos momentos que chegam e reviram o âmago de quem está inteiramente conectado com a banda. A música cumpre exatamente o que promete. Bono quer que todos aqueles milhares se sintam como um só, o que só é possível através de um coro poderoso enfeitado pelas luzes dos celulares, que brilham como vaga-lumes na noite. O segredo do U2 é esboçar situações reais vividas por pessoas reais e, então, retirar os detalhes, sobrando assim um conjunto de emoções universais aos quais todo mundo pode se relacionar. Assim é “One”, que parece contar, em sua superfície, uma história de amor de um casal comum, mas que, no subterrâneo, se transforma em um hino pela união em torno da paz. É um dos pontos altos do show.
É também, e sobretudo, a declaração final do que o U2 pretende: a paz espiritual, a paz interior, a paz com os outros, a paz no mundo. “One” é uma canção de amor a alguém e a todos. É bandeira branca, um momento de beleza coletiva, de comunhão. De alívio em meio à angústia, angústia vivida no Brasil em um de seus momentos mais conturbados e vivida no mundo, na África, na Ásia, na Europa de Bono, não só hoje, como desde o século passado. Uma repetição histórica que a banda sempre desafiou. Em seus quase 40 anos, o quarteto atravessou o massacre de camponeses em El Salvador (“Bullet The Blue Sky”), a ditadura militar da Birmânia (“Walk On”) e a limpeza étnica da Bósnia (“Miss Sarajevo”). E sempre respondeu ao caos do mundo com música. Canções que, em tempos de Estado Islâmico, Boko Haram, Donald Trump e um remake tardio de Guerra Fria entre Estados Unidos e Coreia, soam mais atuais que nunca. Em seu hino pacifista “Sunday Bloody Sunday”, que condena a violência religiosa em seu país natal, Bono pergunta: “até quando precisaremos cantar essa canção?”. Pelo visto, enquanto o U2 durar. E além. Sorte a nossa que eles sempre estão dispostos a fazê-lo.
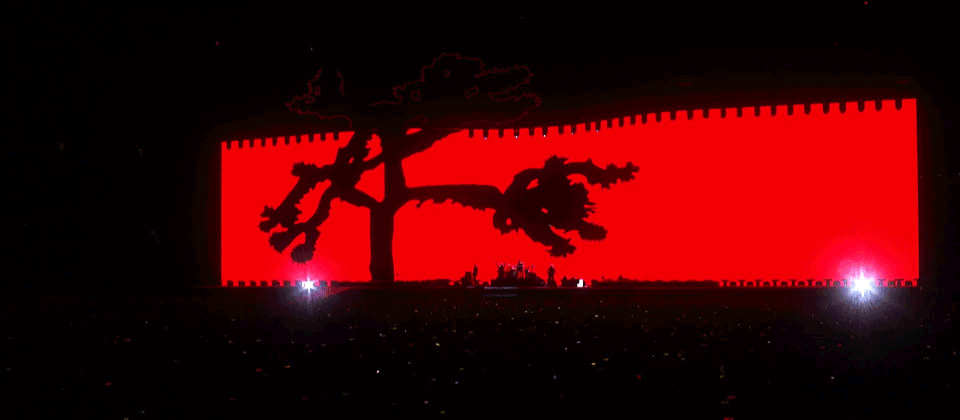
Por U2 Br para a Midiorama













